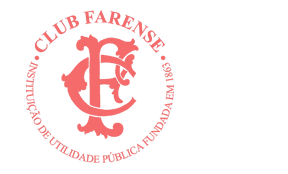IN VERBIS
António Grosso Correia
AINDA A JUSTIÇA
- Partilhar 03/12/2021
Falar de justiça, hoje em dia, é falar
de crise.
Sendo a justiça um produto do
homem, ela não poderia deixar de ser
afectada pela grave crise de valores em que
ele vive – esta, no meu humilde juízo, a mãe
de todas as crises.
A crise da
justiça é, com efeito, real. Os que a ela
recorrem ou com ela lidam facilmente o
concluem. Ela revela-se, desde logo, nos
longos e inaceitáveis atrasos processuais,
com as por vezes consequentes ineficácia e
noutras a inutilidade das respectivas
decisões. E a descrença daí resultante –
como se ela não bastasse – ainda é agravada
pelo conhecimento, pela sociedade em geral,
de casos escandalosos como os do BPN, BPP,
Portucale, submarinos, Freeport, BES,
Sócrates, Vara, Face Oculta, Salgado, só
para citar alguns, e os ligados ao mundo do
futebol.
Como é sabido, nestes casos,
com excepção do BES, símbolo do poder
económico, com influência determinante em
todos os outros poderes, os arguidos são, ou
foram, altas figuras ligadas a partidos
políticos, algumas com funções de Estado, ou
seus protegidos, e ao lamaçal em que se
tornou o futebol.
Ora, o cidadão não
pode nunca deixar de ver na justiça o
primeiro e o último reduto de defesa dos
seus legítimos interesses. Muito pouco ou
nada perturba mais a sociedade do que o
sentimento de injustiça, para ela sinónimo
de um Estado fraco ou quase ausência de
Estado, o que é perigoso.
Dou de
seguida nota do que julgo serem alguns dos
principais e mais preocupantes motivos desta
inquietante realidade, que tem vindo
inexoravelmente minando o estado de direito:
a) o baixo nível ético e de idoneidade
de grande parte da classe política
influente, a quem alguém já apelidou de
esterco social;
b) a paulatina tentativa
de colonização da justiça pela política, com
vista a um tendencial domínio do poder
político sobre o judicial, de extrema
perigosidade e de consequências
imprevisíveis;
c) nuns casos, a
presumível ausência de coragem de alguns
magistrados do Ministério Público e
judiciais, para repudiarem a intromissão
política, ou a mera tentativa; noutros a
falta de meios, materiais e humanos, para
levarem a cabo as suas tarefas em tempo
útil; noutros casos, finalmente, a sua falta
de preparação técnica e empírica.
Relacionada com esta impreparação está, como
não me canso de referir, a juventude, mais
preocupante de alguns juízes, com muito
pouca experiência da vida e dos fenómenos
sociais, experiência que é um atributo tão
importante, ou mais, como o saber jurídico.
Na verdade, para a produção de decisões
justas, o saber jurídico – e muitos dos
jovens juízes e magistrados do Ministério
Público têm-no – pode prescindir menos do
saber empírico do que este daquele.
Não
faltarão casos de decisões justas tomadas
pela equidade.
Ora, como se sabe, a
justiça é um valor de que a humanidade não
pode prescindir. O direito é tão só um dos
meios para a alcançar. Esse valor é tão
precioso que, sem ele, quase tudo pode
falhar, até a saúde – bem fundamental da
vida.
Por isso, os políticos deviam
de dispensar mais atenção e cuidado à
justiça. Não o fazendo, como não o têm
feito, legitimam os cidadãos a concluir que
nisso não estão interessados – o melhor
ingrediente para o aparecimento de outras
formas de Estado, naturalmente ditatoriais,
como a história nos tem mostrado e, de
resto, já vão surgindo na Europa. E sinais
de que o surgimento destes fenómenos pode
não ficar por aqui são as “ameaças” que
estão manifestar-se no mesmo espaço
geográfico.
Mas, a qualidade de uma
decisão judicial não se mede apenas “à
partida”; mede-se também “à chegada”. Isto
é, para ser eficaz, ela não depende apenas
da qualidade técnica do seu prolator;
depende também da aptidão moral do seu
destinatário, para a entender, e da
compreensão e aceitação pela sociedade,
beneficiária última da (boa) justiça.
Não
se pense, porém, que pretendo “absolver” os
advogados (ou alguns deles) da sua
quota-parte de responsabilidade, nesta crise
da justiça. Afinal, eles também são membros
desta sociedade em decadência!
Na
verdade, por vezes, alguns deles, deixam-se
tomar pelo poder político, com ele
cooperando, no sentido do benefício
exclusivo de clientelas políticas; Outras
vezes, fazem o caminho inverso, ou seja,
influenciam o referido poder, com vista a
alcançarem benefícios para os seus clientes,
economicamente poderosos, como é óbvio. Em
qualquer destes trajectos o objectivo –
vezes demais concretizado – é a produção
legislativa, que, inevitavelmente,
condiciona os tribunais na administração da
melhor justiça.
Ora, a função
primeira do advogado é, como tantas vezes
afirmada e outras tantas cumprida,
assumir-se, de corpo inteiro, como a
consciência crítica do poder, como defensor
intransigente dos legítimos, repito,
legítimos interesses dos seus clientes, mas
também da democracia e do estado de direito,
que não pode existir apenas pela via
legislativa; tem de ser afirmado e
positivado na prática.
Concluindo,
impõe-se, pois, a todos – políticos,
principalmente, mas também advogados e
magistrados judiciais e do Ministério
Público – reconhecer, com humildade, o
contributo que têm dado para que a justiça
tenha caído no estado em que se encontra e
fazer o que necessário for para o inverter.

DESABAFO
- Partilhar 30/07/2021
Cada vez mais se fala de corrupção e de compadrio, no nosso País.
O corrupto perdeu a vergonha e o respeito, até por si próprio!
Como se sabe, tais actos são sempre inadmissíveis e gravemente lesivos, quer da dignidade que os órgãos onde eles ocorrem não podem deixar de ter – para merecerem os necessários e indispensáveis respeito e confiança dos administrados, isto é, de todos os cidadãos – quer pelo prejuízo que deles decorre para a economia nacional, quer pelas injustiças e desequilíbrios sociais que provocam, quer pela vergonhosa imagem que veiculam do País e de todos nós.
Ora, conquanto tais actos sejam intoleráveis e ilícitos – a corrupção constitui crime e o compadrio, ainda que, em princípio, o não constitua (sê-lo-á se integrar ou em associação com uma conduta de funcionário conducente à obtenção de uma vantagem, patrimonial ou não patrimonial, que não seja devida) não deixa, por isso, de ser socialmente censurável – a verdade é que, embora muitas vezes se saiba que aqueles actos existem e quem são os seus agentes, na maioria dos casos é muito difícil provar a sua existência.
Aqui está, com efeito, o primeiro grande escudo dos corruptos; outro é o indecente abrigo que os partidos políticos (como diz o povo, quem não quer ser lobo não lhe vista a pele) vão concedendo, quando o corrupto é um dos seus membros. Que importa que seja corrupto, se ganha eleições e até dá “algum” para o partido? Eis a ignóbil cultura instalada. Depois, apelam freneticamente ao Zé povinho para que vote (pudera!); finalmente, o outro escudo é a inaceitável falta de meios, materiais e humanos, com que o poder judicial se defronta.
E se tais criminosos forem titulares, eleitos, de órgãos de soberania – em que o crime é muitíssimo mais censurável e grave – cabe aos cidadãos eleitores penalizá-los nas urnas, atenta também, mas não só, aquela dificuldade de prova, enquanto tais delinquentes não caírem nas malhas da justiça, o que, apesar da referida escassez de meios, bem pode acontecer mais cedo do que estão a admitir, pelo à-vontade com que se mexem nas catedrais daquele lamaçal e da prática de certos comportamentos, como as grandes e chorudas, quanto ilícitas, negociatas, ainda que, por razões óbvias, por interposta pessoa.
Tal penalização, mais do que um direito dos cidadãos, é um dever que se lhes impõe, a todos.
Por isso, por bem e para bem de todos, devemos aproveitar todos os actos eleitorais para mostrarmos que, ao contrário do que por aí já se vai ouvindo, o povo não está, afinal, tão amorfo e resignado com esta chaga nacional.
Não votar nos corruptos é, pois e antes do mais, um acto patriótico. E um dever ético.
Como bem se depreende, não deixo de temer, como modesto oficial do direito e amante da justiça, mas sobretudo como cidadão, que os meus compatriotas não valorem bem a gravidade de tais crimes e comportamentos, bem como os seus nocivos efeitos, dos quais acima cito alguns. É que se assim for, a perda e os prejuízos são de toda a Nação; não apenas de alguns dos seus membros. E serão seguramente irreparáveis.
Atente-se no que se passa na América latina, com destaque para o Brasil, onde o dinheiro tudo compra, numa perfeita e completa subalternização do próprio homem, por isso que aí se encontrando apenas e inevitavelmente duas classes sociais: de um lado, a da mais deprimente e desumana miséria, que abrange a grande maioria da população; do outro, a abastança opulente e ultrajante de uma minoria corrupta, arrogante e desavergonhada. Daí a injustiça. Daí a grande criminalidade.
Estou certo de que nenhum de nós desejará isto para o nosso País, mais que não seja pelos nossos filhos...
António Grosso Correia
(Desrespeitador compulsivo do acordo ortográfico)
RAZÃO DE SER DE UM ÓRGÃO JURISDICIONAL INTERNACIONAL PERMANENTE
- Partilhar 9/06/2021
Como é sabido, nos
conflitos armados, sejam os de génese
regular, sejam os perpetrados por bandos
organizados, não raras vezes cometem-se
crimes gravíssimos. Tais conflitos não
afectam apenas os países conflituantes e em
particular as suas populações, mormente as
vítimas de tais crimes e os seus familiares.
Isso acontecia há muitos séculos atrás;
afectam, também e por outro lado, toda a
comunidade internacional, seja pela
instabilidade que provocam em vários
domínios, seja pelos prejuízos económicos
que causam, mas seja também pela insegurança
que gerem nos povos.
Esta realidade vem,
desde há muito, clamando pela existência de
um órgão ou instância supranacional de
natureza jurisdicional, que sancione os
autores desses crimes e possa, de algum
modo, produzir efeito dissuasor da prática
dos mesmos.
Ora, esse órgão já
existe desde 17 de Julho de 1998, data em
que foi aprovado o seu estatuto, pelo
Tratado de Roma, denomina-se Tribunal Penal
Internacional (TPI) e tem sede em Haia.
Como tratado
internacional que é, só vincula os cidadãos
dos países que o ratifiquem, o que Portugal
fez, tendo-o a Assembleia da República
aprovado em 20 de Dezembro de 2001 e o
Presidente da República procedido àquela
ratificação em 7 de Janeiro do ano seguinte.
Desde então, Portugal
ficou em condições de aderir ao mencionado
Estatuto. E, com efeito, tal adesão ocorreu
formalmente em Fevereiro de 2002, com o
depósito do instrumento daquela ratificação,
junto do Secretário-Geral das Nações Unidas,
passando, assim, Portugal a ser o 51º. país
a aderir ao referido estatuto, isto é, ao
Tribunal Penal Internacional.
A partir daqui, e
desde que, em 1 de Julho de 2002, o
mencionado estatuto entrou em vigor – o que
aconteceu formalmente no primeiro dia do mês
seguinte ao termo do período de 60 dias,
contado da data do depósito do 60º.
Instrumento de ratificação – Portugal passou
a exercer “o poder de jurisdição sobre
pessoas encontradas em território nacional,
indiciadas pelos crimes previstos no nº. 1
do artº. 5º. do Estatuto ... com observância
da sua tradição penal, de acordo com as
regras constitucionais e demais legislação
penal interna”, como dispõe o artº. 2º., nº.
1, do Decreto do Presidente da República nº.
2/2002, de 18 de Janeiro, decreto este em
que é publicado o acto administrativo da
aludida ratificação.
Aqueles crimes são os
“crimes mais graves que afectam a comunidade
internacional no seu conjunto”, tais como os
“crimes de genocídio”, os “crimes contra a
Humanidade”, os “crimes de guerra” e,
verificados determinados pressupostos,
previstos no nº. 2 do mencionado artº. 5º.,
os “crimes de agressão”.
Já se imagina quanto
ganharia a Humanidade, com o funcionamento
de um órgão judicial permanente, com a
jurisdição e a competência do TPI, desde que
em tal funcionamento estivessem assegurados
os princípios da imparcialidade dos juízes,
da legalidade e da garantia de defesa dos
arguidos, requisitos imprescindíveis, digo
eu agora, para conferir ao órgão a
dignidade, o prestígio e o respeito, que ele
necessariamente não pode deixar de ter, para
não passar de mais uma instituição de
fachada e fútil.
Porém, países há que
sempre se opuseram à existência de um
tribunal com as características do TPI, à
cabeça dos quais se encontram os Estados
Unidos, a China e Israel (pudera!).
É claro, o que
estes países, no fundo, receiam é, tão só, a
justiça: o que eles não querem, já se vê, é
que os seus cidadãos criminosos sejam
julgados, sobretudo os que ocupam cargos ao
mais alto nível. Mas já querem,
designadamente os Estados Unidos, tribunais
criados “ad hoc”, exclusivamente para julgar
as pessoas de que eles não gostam (como
aconteceu, por exemplo, com Milosevic), o
que não significa que essas pessoas tenham
praticado os crimes previstos no
Estatuto do TPI. Sê-lo-ão se e quando os
Estados Unidos quiserem que sejam.
Ora, o que a
Humanidade carece é de uma ordem jurídica
internacional, assente em princípios morais,
que lhe confiram a indispensável
legitimidade, e de órgãos imparciais e
permanentes, que a ponham em prática, a
façam respeitar e cumprir e puna os seus
violadores – como poderá ser o TPI.
Virá ela alguma vez a
existir?
(Escrevo em desrespeito
compulsivo do acordo ortográfico)
QUE SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA ISRAELO-ÁRABE?
- Partilhar 9/05/2021
A paz entre Israel e
a Palestina parece cada vez mais uma
miragem, como demonstram os últimos
acontecimentos em Jerusalém, com dezenas de
mortos. E, contudo, os povos desses países
parece estarem ávidos de paz!
Com efeito, já no
longínquo Novembro de 2001, o jornal
israelita Maariev publicou uma sondagem que
mostrava que 53% dos israelitas pretendiam
uma solução pacífica para o conflito que os
tem oposto aos árabes e particularmente aos
palestinianos (Vd. La Clé Palestinienne de Dominique Vidal, in Manière de Voir, nº. 60, Novembre-Décembre de 2001). Os povos,
como as pessoas, cansam-se, além do mais,
quando as soluções para os seus problemas
tardam em surgir! E o conflito israelo-árabe
dura desde há mais de um século, embora se
tenha agravado desde 2 ou 3 anos antes da
independência de Israel, declarada
unilateralmente em Maio de 1948!
Sabe-se que o enfado
– mas também o progressivo esclarecimento
das populações – derivado desta longa e
trágica guerra tem vindo a aumentar ano após
ano. E o desejo de uma solução que traga a
paz definitiva tem também vindo a crescer,
quer de uma parte, quer da outra. Porém, a
concretização desse desejo tem sido impedida
pelos extremistas de ambos os lados: a
extrema direita israelita – com os seus
falcões à cabeça, como Benjamin Netanyahu,
eleito primeiro-ministro após o assassinato,
por outro extremista, do sensato e moderado
Yitzak Rabin – e o Hammas palestiniano,
actualmente no poder.
Sem se pretender –
longe disso – expiar ou apagar da memória os
bárbaros actos de terror praticados pelos
palestinianos contra israelitas, não podemos
deixar de considerar que o maior terror e as
mais cruéis agressões têm sido perpetrados
por estes contra aqueles: os massacres em
massa (em Haifa – antes da anexação por
Israel –, em Deir Yiassine, em Mont Scopus,
em Guch, em Etzion, em Ad-Dawwyima, em Sasa,
em Safsaf, em Majd al-karum e em Jisf), os
assassinatos selectivos, as ocupações
militares de territórios (designadamente em
Gaza – as suas melhores terras – nos Montes
Golã e na Cisjordânia), acompanhadas de
massacres e de expulsões das populações e da
destruição das suas aldeias (como Bir’am,
Ikrit e Gabsiyeh), a destruição,
indiscriminada, umas vezes, e selectiva,
outras, de edifícios, públicos e privados,
as humilhações...
Um dos maiores
massacres praticados pelos israelitas
ocorreu em 1948, logo após a independência,
no seu próprio território, contra os árabes
aí residentes. Crê-se que nesta hedionda
acção foram impiedosa e cruelmente
assassinados entre 8.000 e 9.000
palestinianos, todos civis. Este bárbaro
acto teve como objectivo aterrorizar os
palestinianos (o próprio David Ben Gurion o
admitiu), de modo a que fugissem das suas
terras – para os israelitas as ocuparem,
está claro.
As atrocidades dos
israelitas sobre os palestinianos têm sido
tantas e tais que o próprio Ehud Barak,
quando foi eleito primeiro-ministro do
Governo de Israel, em Maio de 1999, terá
afirmado: “Se eu fosse palestiniano também
optaria pela violência”! Vd. Alain Gresh in
“Israel-Palestine. Vérité sur un Conflit”,
Fayard, Paris, 2001.
Mas, como se sabe,
não têm sido só os palestinianos que têm
vindo a ser agredidos e invadidos. Têm-no
sido também o Egipto, a Síria e o Líbano.
Quem já se esqueceu da “Guerra dos Seis
Dias” e da invasão deste último país, em
1982, em que foram mortos 12.000 civis? E
quando e quem se esquecerá da posterior
invasão do Líbano e do rol de atrocidades e
de crimes de guerra praticados por Israel,
de resto, disto mesmo acusado pela Amnistia
Internacional, que concluiu que a estratégia
do invasor “tinha objectivos militares e
civis”?
Na verdade, também nesta invasão, Israel,
para além de infra-estruturas e alvos
militares, destruiu estradas, pontes,
reservatórios e condutas de petróleo (com os
dificilmente reparáveis danos ambientais) e
bombardeou e destruiu hospitais, creches,
escolas, inúmeros edifícios de habitação,
igrejas e mesquitas, no que se calcula terem
sido mortos entre 2.600 e 3.500 civis, tendo
deixado o sul do Líbano praticamente em
ruínas, como as televisões mostraram. E até
assassinou elementos das Nações Unidas e
atacou alvos da Cruz Vermelha Internacional.
E os árabes,
particularmente os palestinianos, os mais
brutalmente agredidos, reprimidos e
espoliados, como se têm caracterizado as
suas (re)acções contra o poderoso Israel,
super armado e apoiado pelos americanos?
Têm-se armado até aos dentes, como o tem
feito Israel, desde a sua independência? Não
consta, até pelo bloqueio à venda de
armamento que têm sofrido e às divisões
entre estes, provocadas pelos Estados Unidos
(mais uma vez e sempre).
Ora, sem armamento e
sem união que possam fazer frente ao inimigo
de todos os dias, ocupante e destruidor, a
quem pode espantar que se tenham tornado em
“especialistas” atiradores de pedras
(Intifada) e “homens-bomba”?
A verdade é que
Israel, super armado e incentivado pelos
Estados Unidos, tem feito muito bem o que
tem querido!...
Trata-se, quem
duvida?, de uma política, sem moral, toda
ela dominada por estratégias e interesses
unicamente económicos – o petróleo e o
chorudo negócio do armamento – para engorda
de alguns, mas que só pode conduzir ao
sofrimento, à ruína e à morte de muitos
milhões, bem como à guerra, à destruição e á
catástrofe.
É, pois, necessário
que a Humanidade desperte para flagelos como
este…É preciso dar mais valor à verdade que
ao embuste. A paz é um bem inestimável,
todos sabemos. Mas não pode haver paz
enquanto se continuar a perverter a verdade
e a praticar a injustiça.
Por isso,
satisfaz-nos imenso que, cada vez mais, se
despertem consciências em países, cujos
governantes parece que não sabem ou não
podem exercer as suas altas funções senão
promovendo a guerra, como em Israel, onde
progressivamente vozes importantes e
insuspeitas têm vindo a levantar-se contra
ela.
São os casos do
General Amon Shahak, antigo Chefe de
Estado-Maior General das Forças Armadas, que
foi um dos signatários dos Acordos de
Genebra e se distinguiu na defesa do seu
país, quando defendeu que “sair dos
territórios ocupados é um dever sionista”, e
do General Uri Avnery, que chegou a integrar
o Yrgun, organização terrorista judaica que
combateu a presença colonial britânica na
Palestina (que englobava o território que
foi cedido pelas Nações Unidas para criação
do Estado de Israel).
Estas destacadas
personalidades, entre muitas outras, de
“peso” na sociedade israelita, como os acima
referidos Ehud Barak e Yitzhak Rabin, os
Coronéis Benny Michalson, Eppi Meltzer e
Abraham Zohar, e ainda os universitários Tom
Segev, Avi Schlaim Benny Morris e Simha
Flapan, reclamaram uma mudança radical da
política de Israel, com vista a uma paz
duradoura com os seus vizinhos árabes.
Verdadeiramente, não
pode ser outro o caminho para a paz naquela
região do globo.
A JUSTIÇA
- Partilhar 11/03/2021
Escrevo Justiça com
letra maiúscula para realçar a sua
importância, porquanto considero-a um bem
fundamental e imprescindível na vida das
pessoas e das sociedades.
Considero ainda que o
conceito de Justiça, em maior ou menor grau,
é comum a todos os humanos e não depende das
suas literacias ou cultura.
Na verdade, a Justiça
– como a sua ausência – é, antes de tudo, um
sentimento que surge espontaneamente e quase
sempre sem esforço intelectual.
O prevaricador,
consciente da ilegalidade do seu acto,
embora lhe custe “pagar” pela prática do
mesmo, não deixa, no fundo, (em regra em
silêncio) de entender que, se violação
houve, penalização teria também de haver.
Ninguém, a não ser os anarcas, conceberá uma
sociedade desregrada, penso.
Porém, um problema
surge, e não só em termos processuais,
quando é necessário fazer Justiça. É, com
efeito, aqui que nasce e vive porventura o
maior problema na administração da justiça.
E que problema!
Há várias causas para
que a Justiça falhe ou, como outros
preferem, para que ela não se faça. Destaco
apenas as que me parece serem as principais:
-
A inexperiência do
julgador jovem
(que vem acontecendo desde há mais de 3
décadas). Inexperiência da vida. Daí, no meu
humilde juízo, ser muito mau para a Justiça
“pôr-se” a administrá-la jovens magistrados,
sem os necessários apoio e acompanhamento de
outros mais velhos e experientes, muitos
daqueles com idades inferiores a 30 anos,
cuja visão de Justiça é, como não podia
deixar de ser, pouco mais do que teórica,
pois emana quase exclusivamente da escola
institucional. Falta-lhes, NATURALMENTE,
dois elementos essenciais – a
sabedoria e a
prudência,
estas que se adquirem na escola da vida. E a
vida, diz-se, é uma longa aprendizagem, que
nunca termina.
Como já tantas
vezes tenho opinado, inclusive nesta
revista, para julgar, não basta saber-se
interpretar o direito.
O que importa é que
se saiba também, e antes de tudo,
interpretar os factos.
Depois é só subsumi-los à lei, tarefa em que
aqueles elementos não podem faltar.
Portanto, primeiro, os factos; depois, a
lei.
Uma coisa é ter a
concepção de justiça; outra, muito difícil,
é ministrá-la;
-
A elaboração, pelo
tribunal, de um juízo falso
porque falsos foram os elementos de que
partiu. Isto acontece, por exemplo, quando
as partes, ou alguma delas, não souberam ou
não quiseram levar ao processo factos ou
outros elementos verdadeiros ou aptos a
produzir uma decisão justa;
-
O tribunal foi
enganado pelo réu ou arguido.
Experimentado e inteligente, soube, com
mestria e eficácia, arquitectar um embuste,
assim logrando ludibriar o tribunal (e
quantas vezes também o seu próprio
advogado!);
-
O tribunal
foi enganado pelos
peritos. Os
peritos efectuaram mal a peritagem, por
incompetência, por erro na interpretação dos
quesitos ou por mal formulação destes;
-
O tribunal foi
enganado por outros elementos de prova
(testemunhas ou documentos).
Estes elementos de prova são fundamentais na
administração da Justiça e são eles,
designadamente as testemunhas, que muitas
vezes impedem que ela se faça.
Em suma: duas são, a
meu ver, as principais causas de não se
fazer Justiça – a inexperiência do julgador
e os erros judiciários, estes resultantes
das causas que acabei de enunciar.
Mas não desanimemos
que, por vezes, faz-se Justiça.
“Ex abundantia cordis loquitur”,
ou seja, falamos sempre daquilo que nos
sobressalta o coração.
A todos boa saúde.
António Grosso
Correia
PARA ONDE CAMINHAREMOS?
- Partilhar 08/12/2020
(No regime
democrático) tempo houve em que a governação
de direita se distinguia da de esquerda.
Isto é, em que os valores por uma e outra
defendidos ali se esbatiam e se espelhavam.
Nesta época de liberalismo, a que alguns já
vão chamando de pós-democrático, tal
distinção é praticamente inexistente. É por
isto que os cidadãos – fartos de promessas
incumpridas e frustrados por constatarem que
“mudam as moscas, mas o esterco mantém-se” –
estão cada vez mais descrentes do sistema e
cada vez mais se alheiam da participação
cívica, como nos actos eleitorais ou no
debate político, este praticamente
inexistente, até mesmo no seio dos partidos,
onde se reduziu à luta por lugares e pela
distribuição de “tachos”.
O homem tornou-se
ávido de poder, sendo que, hoje em dia,
poder político é, para alguns, sinónimo de
algum poder económico. E no exercício da
política poucos são os que trabalham “por
amor à camisola”, isto é, para defesa das
suas convicções políticas ou ideológicas que
seria suposto considerarem as que melhor
servem a comunidade. Com raríssimas
excepções, os discursos são tematicamente
ocos e repetitivos, cada vez mais
patenteando despudorada arrogância e uma
clamorosa falta de cultura e de formações
moral e cívica.
Exemplos destes
chegam-nos, por vezes, donde ainda não se
esperava: quem já se esqueceu do debate
televisivo entre Manuel Maria Carrilho e
Carmona Rodrigues – dois professores
universitários – aquando de ainda recente
campanha eleitoral para as autarquias?
A qualidade deu
lugar à mediania, umas vezes, à
mediocridade, outras.
Estamos, pois, a
viver uma grave crise, que radica
precisamente na ausência de valores — nunca é demais
afirmá-lo, embora já se trate de um lugar
comum. O que mais guia o homem de hoje, na
sua acção, é o interesse exclusivamente
material, sob uma perspectiva cada vez mais
egoística, absolutamente convicto de que o
seu bem-estar económico (pessoal) é o bem
supremo, é o máximo que pode atingir na
vida! A falta de bem-estar dos que o
rodeiam, a moral e o estado do
desenvolvimento do seu país ou região pouco
ou nada o incomoda! Valores como a honra, a
solidariedade, a justiça, a paz, são para
ele apanágio de tolos ou questões
ultrapassadas ou secundárias, apenas para
delas se falar, sempre que, está claro, daí
lhe possa advir algum proveito, em termos de
estatuto social ou económico!
Como consequência
lógica de tudo isto, aí temos as diversas
crises (económica, da justiça, da saúde, do
ensino, etc.), que convergem na porventura
pior crise de todas – a crise do próprio
Estado, de que é reflexo o progressivo
desprestígio das instituições, a que não
escapa a própria Assembleia da República,
símbolo por excelência do regime
democrático.
Não me parece, por
isso, ousado afirmar que o actual estilo de
exercício da política afecta o próprio
sistema político. Já não apenas a
governação, mesmo ao mais alto nível. O que
é péssimo.
Já não nos bastavam
os efeitos perniciosos que, a outro nível, a
voraz globalização neo-liberal está a
produzir no funcionamento das democracias,
no que, evidentemente, se inclui a nossa…
Para onde
caminharemos?
O PROBLEMA, MEUS SENHORES, ESTÁ NA ESCOLA
Quando as nossas
omnipresentes preocupações mais imediatas, inerentes
aos afazeres quotidianos, nos permitem
disponibilizar algum tempo para observarmos o que
por aí vai “no burgo”, não creio ser difícil aos
mais atentos concluir que, em muitos domínios,
vivemos num mundo sem regras de conduta e que as
outras – as das leis – quase só se aplicam a alguns.
A esta percepção mais facilmente chegarão aqueles
que, como o escrevinhador destas linhas, contam já
mais de meio século de vida – tal a evolução
negativa que aquelas regras têm vindo a sofrer ao
longo dos tempos.
Com
efeito, factos não faltam aptos a conduzirem
rapidamente à mencionada conclusão, dos quais me
permito destacar apenas alguns, pela sua dimensão:
1. – O crescente número de
casos de corrupção e o à-vontade e a frequência com
que são cometidos. E quando ela é praticada por
responsáveis políticos, as suas gravidade e
censurabilidade não estão apenas na sua prática, mas
também no exemplo e no “ensinamento” que transmitem
– se a quem incumbe, em especial, o dever de
prevenir e de reprimir a prática de actos criminosos
os comete, por que razão não hão-de praticá-los
também os que não têm tamanho dever? – pensarão, com
certa lógica, alguns. De resto, a alusão a este
extraordinário “direito” já se vai ouvindo com
alguma regularidade. Ninguém duvidará do perigo que
esta espécie de sentido de “justiça” social, que se
corre o risco de ver implantada, acarreta, ademais
atenta a conhecida inoperância dos tribunais,
decorrente, na minha humilde opinião, do aumento
exponencial e progressivo da conflitualidade, de
leis mal elaboradas e desadaptadas à realidade e,
por último, da impreparação, dada a sua juventude,
de grande parte dos juízes, como julgadores, não
como juristas teóricos (que, aqui, na sua larga
maioria, estão bem apetrechados). Na verdade, para
julgar, não basta conhecer o direito e, em regra, os
nossos juízes conhecem-no bem; para julgar e fazer
justiça é, além disso, necessário ter muita
experiência da vida, que um jovem de trinta anos, ou
pouco mais, não pode, naturalmente, ter.
Mas, em todo o caso, ninguém
espere que os tribunais alguma vez possam suprir as
lacunas da escola – a da família e a institucional –
isto é, possam dar ao cidadão o que a escola não lhe
deu; dizendo de outro modo, ninguém espere que uma
sentença, por muito justa que seja, tenha o condão
de evitar que o condenado volte a ter o
comportamento que o levou à condenação, se ele o
teve precisamente porque, na altura e na sede
próprias, não lhe ministraram a formação moral que o
impediria de assim ter procedido.
Cuido eu que é na ausência de
valores, estes cuja fonte é aquela formação, que
reside a causa determinante do que relato neste
texto, valores que tipificam a chamada boa educação,
como o respeito pelas regras estabelecidas, a honra,
a honestidade e o sentido de responsabilidade.
Voltando à corrupção dos
políticos, com ela não é só o regime que sai
desacreditado; é toda a nação que fica ofendida,
descrente na democracia e atraiçoada pelos políticos
(aqui também os justos “pagam” pelos pecadores), de
quem se esperava, exigia e exige bons exemplos e
práticas consentâneas com a dignidade dos cargos
para que foram mandatados.
Por
isso, ninguém, de bom senso, entenderá que políticos
judicialmente condenados (embora com as condenações
suspensas por via de recurso) – mas também os
unicamente acusados – possam continuar a exercer os
cargos ou a outros candidatar-se, como tantas vezes
tem acontecido! Esta indecência dá do nosso país uma
imagem terceiro-mundista, desprestigiando-o perante
a comunidade internacional;
2. – A impunidade dos
poderosos. É esta a convicção que, certa ou
casualmente errada, vai, cada vez mais, atormentando
o cidadão. E ainda que, em muitos casos, tal
convicção seja infundada, o facto de ela existir é
já muito mau, por duas razões, fundamentais:
- a primeira está na causa
desse sentimento, ou seja, no que leva as pessoas a
pensar assim – por exemplo, os diversos casos de
decisões judiciais mal aceites pela opinião pública.
E sabe-se que a justeza de uma decisão judicial está
na sua aceitação pela sociedade;
- a segunda razão é a
consequência daquele pensamento, isto é, o
descrédito na justiça – como se sabe, um dos pilares
da democracia e da preservação da ordem e da
tranquilidade públicas.
Uma sociedade que não confie
na justiça é uma sociedade insegura, descrente dos
valores e que, em último caso, pode ser levada a
substituir-se aos tribunais, na resolução dos
conflitos que a atingem. Este cenário seria
perfeitamente idóneo à prática dos maiores atropelos
à ordem e à segurança sociais e, em breve,
desembocaria num autêntico “far west”;
3. – A falta de ética e de
seriedade no exercício da política. Para chegarmos a
esta conclusão, para além da corrupção, basta
assistirmos aos debates políticos, como os da
Assembleia da República (onde amiúde, e quase
exclusivamente, se privilegia o interesse partidário
em detrimento do nacional) e basta atentarmos nos
critérios de selecção (melhor diria, na falta deles)
das individualidades para ocuparem cargos nos órgãos
da Administração Pública, nos institutos públicos,
nas empresas públicas, ou nas com participação do
Estado, apenas para satisfazer clientelas políticas,
atirando, criminosamente, para trás das costas o
interesse nacional.
Mas também, e já agora, o
recrutamento de políticos influentes, para colocação
nos órgãos de gestão de grandes empresas privadas,
conhecidas por “empresas do regime”, para
beneficiarem de benesses do Estado, numa prática
desigual, paternalista e discriminatória,
relativamente à esmagadora maioria dos outros
agentes económicos, com os consequentes prejuízos
para estes, para o Estado e, em última análise, para
a economia nacional, resultantes, sobretudo, dos
privilégios concedidos àquelas “minoritaríssimas”
empresas, e da inerente subversão das regras de
funcionamento da economia, da livre concorrência e
do mercado, geradoras de emprego e de riqueza;
4. – A complacência do Estado
ante o fosso que tem vindo progressivamente a
instalar-se entre, por um lado, uma ínfima camada de
privilegiados e, por outro, a esmagadora maioria das
empresas e dos cidadãos, deprimindo, cada vez mais,
a economia nacional, como resultado da actuação,
totalmente desregulada e cartelizada, de algumas
empresas, como, por exemplo, a Galp, a EDP, as das
telecomunicações – aumentando escandalosamente os
custos dos seus produtos e serviços – e os bancos –
inexplicável e inaceitavelmente beneficiadores
fiscais, relativamente às demais empresas, e
taxadores de tudo “o que mexer” em qualquer tipo de
contrato com os clientes, como os de depósito.
E,
finalmente, a não menos complacente atitude do
Estado face aos indecorosos salários, prémios e
outras regalias dos gestores de certas empresas,
públicas, ou com participação do Estado, mas também
privadas, tudo que continuará, com grande
probabilidade, mesmo com a gravíssima crise
económica, por que o país já está a passar, de
enorme desemprego e sacrifícios sociais e em que se
exigiria tanta contenção!
O ACESSO À MAGISTRATURA JUDICIAL
No Expresso da semana passada
veio publicado um artigo do Senhor
Juiz-Desembargador, Dr. Eurico Reis, intitulado
“Memórias de um juiz de aviário”, sobre uma eventual
redução do tempo de estágio de formação de juízes e
procuradores (no Centro de Estudos Judiciários), que
aquele ilustre magistrado criticou com invejável
lucidez, como, aliás, é seu apanágio.
Ao ler o seu artigo,
suscitou-se-me o desejo de revisitar um que escrevi,
em Maio de 1994, a que atribuí o título supra,
artigo este que veicula as mesmas preocupações ali
expressas pelo Dr. Eurico Reis, embora indo mais
longe do que ele. É este artigo que aqui ora
ressuscito e rezava assim:
1. –
O recrutamento e formação dos magistrados judiciais
continua a deixar de fora um elemento essencial na
administração da Justiça –
a experiência,
esta magnífica fonte de intuição da realidade.
Inexplicavelmente, nas
últimas décadas, os sucessivos Governos têm vindo a
desprezar tão valioso elemento!
Como
é possível abdicar da sabedoria e da prudência que
só a experiência pode fornecer!...
Como
se sabe, elas não se adquirem nas escolas
institucionais. Adquirem-se na escola da vida. Um
bom jurista pode ser um mau juiz, se delas não for
detentor. Ora, o que a sociedade mais precisa, nos
tribunais, sobretudo nesta época de grave crise de
valores, é de bons juízes, bons julgadores; não
apenas de bons juristas. Para julgar, não basta
saber-se interpretar o direito.
Importante é que se saiba
também, e antes de tudo, interpretar os factos.
E este conhecimento, nem a faculdade, nem o Centro
de Estudos Judiciários (CEJ) transmitem, pelo menos
na medida necessária. Ele só pode advir da
experiência.
Por outro lado, quem está a
ser julgado tem que confiar na justiça, cuja
primeira face é quem julga. Essa confiança é
indispensável à credibilidade da justiça, também ela
absolutamente necessária ao imprescindível respeito
pelo poder judicial e ao prestígio dos tribunais.
Por isso, cabe ao julgador transmitir tais confiança
e credibilidade, o que muito dificilmente um jovem
de 30 anos (e muitas vezes menos!) poderá,
naturalmente, fazer. O que, muitas vezes, transmite
é insegurança, quando não também despotismo e falta
de humildade, esta quase sempre fruto daquela. As
excepções são, infelizmente, menos do que o
desejável, mas são bom prenúncio.
Antes havia a preocupação de
formar os juízes pela experiência, primeiro,
seguindo um percurso como magistrados do Ministério
Público, depois, ingressando na magistratura
judicial, mediante concurso. Ou seja, primeiro
aprendia-se a ser juiz, adquiria-se experiência dos
processos, mas também da vida, e só depois é que se
era juiz. Agora é o contrário: é-se juiz antes de se
saber sê-lo!
Pois
bem, se antes existia a tal preocupação, quando a
honra e o respeito eram valores predominantes no
relacionamento social e, também por isto, havia
muito menos conflitualidade, não faz qualquer
sentido que tivesse deixado de o ser, quando a
observância daqueles valores é já uma miragem e a
conflitualidade se apresenta cada vez mais
sofisticada e emergente de situações e fenómenos
sociais que dificilmente serão entendíveis por quem,
naturalmente, não seja detentor da referida
experiência, como os jovens, que têm passado toda a
sua, ainda pouca, vida entre as paredes da faculdade
e do CEJ. Até poderão produzir decisões muito
“legalistas”, mas isso não nos dá a garantia de
serem as mais discernidas, as justas! E, como se
sabe, algumas vezes não o são. Ora, é o direito que
está ao serviço da justiça; não o contrário.
Parece-me, portanto, claro que não se tem dedicado a
atenção de que o sector da justiça carece. Por
autismo dos políticos? Porque estes tendem a adoptar
as medidas mais fáceis e de efeitos mais imediatos,
que não as necessárias? Por corporações ou “lobbies”
não o permitirem?
Porque se receia demais enfrentar os mais graves
problemas com que se defronta a sociedade? (E este,
poucos discordarão, é um deles: por exemplo, quando
os cidadãos esperam anos e anos, não raras vezes
mais de cinco, por uma decisão não estamos perante
um grave problema social? A situação em que a
economia se encontra não terá como uma das
principais causas o estado deplorável da justiça,
independentemente dos efeitos das conjunturas
políticas ou económicas? Quem, menos honesto, paga
quando deve fazê-lo, sabendo do marasmo e da
inoperância dos tribunais? Quantas empresas não
fecham as portas porque não conseguem cobrar os seus
créditos?).
2. – Mas, então, qual deveria
ser o caminho a seguir?
No estado em que as coisas se
encontram, parece-me que o acesso ao exercício da
magistratura judicial deveria poder fazer-se também
pela via electiva, sendo os candidatos juristas, de
nacionalidade portuguesa, de reconhecidos méritos
técnico e moral, preferencialmente dotados da rica
experiência do foro, como advogados, com pelo menos
10 anos contínuos e efectivos dessa experiência.
Saber quem eles são ou onde se encontram não seria
tarefa difícil. Por exemplo, a Ordem dos Advogados,
designadamente através dos seus Conselhos
Distritais, não terá dificuldade em “descobri-los”.
(Obviamente, a proposição das suas candidaturas,
dependeria sempre das suas aceitações para o
exercício dessas funções).
O período deste exercício
seria de 5 ou 7 anos, o que, com melhor ponderação,
se entendesse ser o melhor.
Terminado cada período, o
jurista poderia recandidatar-se a novo período,
desde que, no termo daquele, a sua idade não
ultrapassasse a da reforma.
O acesso aos tribunais
superiores far-se-ia (obviamente, em função das
vagas) por mérito encontrado através da avaliação do
trabalho desenvolvido na instância inferior.
Requisitos para a candidatura
à magistratura seriam: (i) a não filiação
partidária, actual ou antecedente; (ii) a não
filiação, actual ou antecedente, em qualquer
associação de natureza política, étnica, religiosa
ou outra que pudesse influir no exercício das
funções; (iii) o não patrocínio da candidatura, seja
a que título for, por qualquer partido político ou
por associação de qualquer daqueles tipos; (iv) a
não condenação, em processo criminal, com sentença
transitada em julgado, pela prática de qualquer
delito que afecte a sua honorabilidade para o
exercício do cargo; (v) a não condenação, em
processo disciplinar, com decisão, transitada em
julgado, pela prática de qualquer facto considerado
grave; (vi) outros requisitos conformes com a
dignidade da magistratura.
O
universo dos eleitores seria constituído
apenas
por juízes, agentes do Ministério Público,
advogados, solicitadores, todos eles ainda que já na
situação de reforma, e funcionários judiciais. Os
candidatos seriam eleitos pelos círculos judiciais
onde exercem a sua actividade há pelo menos 10 anos,
de modo a permitir o seu conhecimento pelos
eleitores. Uma vez eleitos, exerceriam as suas
funções em círculos judiciais distintos daqueles que
os elegeram e dos da sua residência.
As vantagens desta via de
acesso à magistratura judicial são, a meu ver,
inquestionáveis: para além das que atrás refiro,
realço as maiores legitimidade e independência do
juiz, a sua maior responsabilização perante a
sociedade, a maior garantia quanto à qualidade da
justiça e à celeridade nas decisões, cujas
consequências, designadamente para a recuperação do
prestígio e da credibilidade da justiça e para a
economia nacional, seriam inestimáveis. Enfim, seria
quase tudo o que o nosso País precisa!
Em
democracia, nada confere mais legitimidade ao
exercício de um poder, qualquer que ele seja, do que
a eleição do seu titular. Na matéria em apreço não
me parece que possa haver qualquer impedimento à
perfilhação desta alternativa – a não ser o actual
quadro legislativo, que, para o efeito, careceria de
ser alterado.
3. –
Mas a adopção desta via não pressuporia a
subalternização do CEJ, nem poderia significar
menosprezo pela sua valia na preparação
teórica,
reconhecidamente boa, dos auditores (futuros juízes
e procuradores).
Tratar-se-ia, apenas, de uma
de duas distintas vias de acesso à magistratura
judicial.
Porém, porque aquela
preparação (teórica) é insuficiente, obtida ela, os
auditores, teriam que percorrer todo um trajecto de
enriquecimento empírico, nos tribunais – junto de
magistrados judiciais, acompanhando-os e
coadjuvando-os nas suas tarefas – nas conservatórias
dos registos prediais, civis e comerciais, nos
notários e nos serviços de finanças.
Este percurso, cuja duração
não deveria ser inferior a 3 anos, terminaria com
uma prova, composta por uma parte teórica e por uma
parte prática – com os índices de avaliação 40 e 60,
respectivamente – que seria avaliada por um júri
composto por um magistrado, que a ele presidiria, a
indicar pelo Conselho Superior da Magistratura, um
advogado, a indicar pela respectiva Ordem, um
conservador do registo predial e comercial, um
conservador do registo civil e um notário, estes a
indicar pelo Director Geral dos Registos e do
Notariado.
Só
depois de terminado este percurso, com
aproveitamento, é que o auditor ingressaria na
magistratura judicial e, portanto, poderia julgar.
DELAÇÃO PREMIADA
Hoje, proponho-me
abordar aqui a questão da delação premiada,
como já o fiz no facebook, todavia com menos
desenvolvimento.
Faço-o porque se
me afigura tratar-se de um tema extremamente
importante e delicado que se coloca à
justiça e também, como não podia deixar de
ser, à sociedade em geral – principal
destinatária daquele bem (a justiça)
fundamental e imprescindível na vida das
pessoas.
E faço-o também
como reacção, se se quiser, a algum
entendimento de defesa da delação, que já
ouvi e li, expresso por alguns juízes e por
algumas pessoas do meio social, estas,
todavia, mais “desculpáveis” do que aqueles,
digo eu, por não terem cultura jurídica e
serem, aparentemente, levadas a esse juízo,
por estarem fartas de se darem conta de uma
certa impunidade, que grassa por este país,
mormente em certa classe mais bem colocada
na sociedade!
Lamentável, muito
lamentável, a meu ver, é, em certos meios
judiciais parecer existir uma corrente que
entende que a delação premiada é um meio de
se “chegar à verdade material”!
Pois, quanto a
mim, só o facto de a delação estar associada
ao termo “premiada” me assusta.
Com efeito, em
meu entendimento, delação é, antes de tudo,
uma forma de perverter os princípios e as
regras da justiça e é, ou pode ser, um meio
de a instrumentalizar, de a descaracterizar,
de a falsear.
A delação
premiada permite o uso de todo o tipo de
vingança, o ajuste de contas, entre outras
abjecções. Nada nos garante que isto não
aconteça. E basta acontecer uma só vez para
que seja de mais!
O delator
premiado pode agir sob qualquer pressão, não
do tribunal, perante o qual depõe. Pode agir
a soldo de interesses particulares, de
qualquer natureza, como a económica, a
política, etc.
Na delação não há
a mínima garantia de isenção, até porque o
delator age em função de um interesse
próprio – o de ver reduzida a sua pena, ou o
de se livrar dela, ou o de ganho, como
contrapartida por favorecer alguém com o seu
premiado depoimento.
Ora, pior, muito
pior, do que absolver um culpado (obviamente
por falta de prova) é condenar um inocente,
sobretudo se esta condenação resultar de uma
prova falsa, que bem pode ser produzida por
delação motivada por prémio. Não pode haver
inocentes onde se quer que haja culpados.
Se o delinquente
se recusa a confessar a prática do crime é à
administração da justiça que incumbe
convencê-lo, por meio de prova, de que o
praticou. Isto emerge do facto de a ordem
imposta pelo Estado ser garantida unicamente
pela lei. Mal de nós se assim não fosse.
Na sociedade
civil, há quem admita que a delação premiada
pode trazer “benefício” para a justiça, com
o argumento de que ela pode permitir ao
tribunal descobrir a verdade.
Com o devido
respeito por quem assim entende, a justiça
nunca é beneficiada por meios a ela
exteriores, quer dizer, por meios alheios às
suas regras.
Em meu humilde
juízo, uma decisão judicial motivada por um
depoimento premiado é uma decisão
prostituída. Ainda que o delator tenha
deposto com verdade. Esta é uma verdade que
não me interessa, que não deve interessar a
ninguém, porque ela pode levar-nos a que os
tribunais passem a aceitar, por sistema,
estes meios de prova perversos.
O que a justiça,
no nosso país, precisa é, sem a menor
dúvida, de meios humanos e materiais
suficientes para cumprir e ser cumprida. É
sobre esta premente questão que o Governo
devia de se debruçar muito afincadamente –
tal o estado de necessidade a que a justiça,
o nosso país, chegou!
Por tudo isto,
DELAÇÃO PREMIADA NUNCA.
COMO PODE ALGUÉM CONTINUAR A DEFENDER A GUERRA!...
No tempo que já levo
de vida, não me lembro de alguma vez não
existir guerra ou ataques terroristas em
qualquer parte do mundo.
Invariavelmente,
quando aquela ou estes ocorrem, a discussão
coloca-se espontaneamente no modo de os
combater: uns defendem que eles se combatem
com diálogo; outros, como, por exemplo, os
defensores da política internacional dos
Estados Unidos, opinam que é com guerra
(provavelmente com invasões de países, mais
mortandade de pessoas inocentes e indefesas,
a latere
do direito, como a história nos tem vindo a
mostrar).
Pois bem, no meu
modesto juízo, nem uma, nem outra daquelas
“receitas” é a correcta, sob o ponto de
vista da eficácia.
Mas se tivesse que
optar por uma delas não hesitaria em
prescrever a primeira, isto é, a do diálogo
– esta civilizada e sensata via de
solucionar diferendos, a que, infelizmente,
tão pouco se recorre.
A meu ver, o único
meio eficaz de resolver um problema – a
guerra e o terrorismo (a guerra gera-o
sempre) podem ser, e em regra são, um dos
maiores problemas, senão o maior, que ao ser
humano se pode deparar, na medida em que
causam a morte e a destruição e são inimigos
da paz – o único meio eficaz de resolver um
problema, dizia, é combater e eliminar a sua
causa. Por isso, a primeira coisa a fazer é
descobri-la.
Na minha opinião,
a causa única do terrorismo, com que a
Humanidade tem vindo sistematicamente a
confrontar-se, é a violência e a
desumanidade da injustiça, assente na
arrogância, na mentira e no desprezo
absoluto pelos direitos humanos – a única
causa do terrorismo é, afinal, precisamente
o terrorismo.
Aqui chegados,
importa definir, desde já, o que é
terrorismo. Qualquer dicionário o definirá
como sendo todo o acto violento que causa ou
provoca terror. E se esta definição está
correcta – como definitivamente e sem
imodéstia considero que está – terrorista é
todo aquele que pratica tal tipo de actos,
independentemente da motivação e da
qualidade em que o faz, da raça a que
pertence e do credo que professa: não há
terrorismo bom e terrorismo mau; não há
terrorismo melhor e terrorismo pior; ou há
terrorismo, ou não há. E o terrorismo é
péssimo.
No que concedo é
que ele possa manifestar-se de modos
diferentes: embargo económico e sanitário a
um país, acarretando a fome e a doença dos
seus habitantes, e vezes tantas a morte,
designadamente de crianças, idosos e
doentes, como vezes demais, um pouco por
todo o mundo, tem acontecido, é terrorismo?
Não tenho dificuldade em aceitar que é, no
mínimo, um modo de o provocar; invadindo
países soberanos, com todo o cortejo de
mortos, estropiados e destruição, mesmo
quando antes não tenha existido qualquer
acto bélico hostil desses países para com o
invasor, é terrorismo? Sem dúvida que é;
testar armamento bélico, ainda por cima o
mais horrendo e mortífero, como é a bomba
atómica, lançando, sem aviso prévio, duas
delas, como fizeram os Estados Unidos sobre
as cidades japonesas de Hiroshima e
Nagasaki, em que foram bárbara e
indiscriminadamente chacinadas, sem dó, nem
piedade, ali, 300 mil pessoas, aqui, 200
mil, é terrorismo? Quem pode duvidar?
Já agora que
diferença qualificativa existe entre aquele
acto e o do 11 de Setembro? Qual deles pode
fazer esquecer o outro? Quem é mais
terrorista, Ossama Bin Laden ou o monstro
que ordenou o lançamento daquelas bombas?
E se todo o efeito
tem uma causa, porque terão surgido (entre
outros) o terrorista Bin Laden e os
terroristas suicidas palestinos? A esta
questão, sobre que a Humanidade se
interroga, ainda não ouvi nenhum governante
americano ou qualquer dos seus acólitos
responder, com sensatez! Seria, sem dúvida,
interessante que o fizessem. Mas sem
hipocrisia. É claro que nunca o farão…
Que reacção se pode
esperar de povos sobre quem,
sistematicamente, se provoca o terror?
Alguém duvida de que
terror gera terror?
Alguém,
minimamente informado e de bom senso, pode
duvidar de que, contrariamente ao que certos
políticos ocidentais disparatadamente estão
a pretender fazer passar, o que, nesta
matéria, temos vindo a assistir na cena
internacional não é a uma guerra entre
religiões, mas antes ao confronto entre, por
um lado, uma política internacional de
domínio, pela humilhação e pelo terror,
protagonizada pela única superpotência e por
alguns países seus acólitos, sobretudo
Israel, e, por outro lado, uma natural
reacção dos povos oprimidos e humilhados por
essa política?
É por tudo isto
patética ilusão admitir-se que existem
medidas que previnem o terrorismo,
mantendo-se aquela política de agressões.
Tenho, pois, como
certo que o terrorismo – interno ou
internacional – só se combate com o respeito
pelo direito. O terrorismo jamais será
aniquilado pela guerra, porque antes com ela
é estimulado.
Se não, como
explicar, por exemplo, que, tendo o motivo
(oficial) para a invasão do Afeganistão sido
o combate ao terrorismo internacional
(aforismo invariavelmente utilizado para
justificar qualquer acção de violação do
direito internacional) e a eliminação de Bin
Laden, aquele se tenha fortalecido e
continuado activo, mesmo após a eliminação
deste, ocorrida muitos anos depois daquela
invasão?
E como explicar
que um dos motivos (também oficiais) para a
invasão do Iraque tivesse sido o combate ao
mesmíssimo terrorismo e, desde então, este
país tenha passado a viver a ferro e fogo,
sobretudo durante vários anos após aquele
acto bélico, assente, como logo se viu, numa
ignominiosa mentira?
Como pode alguém
continuar a defender a guerra!…
António Grosso
Correia